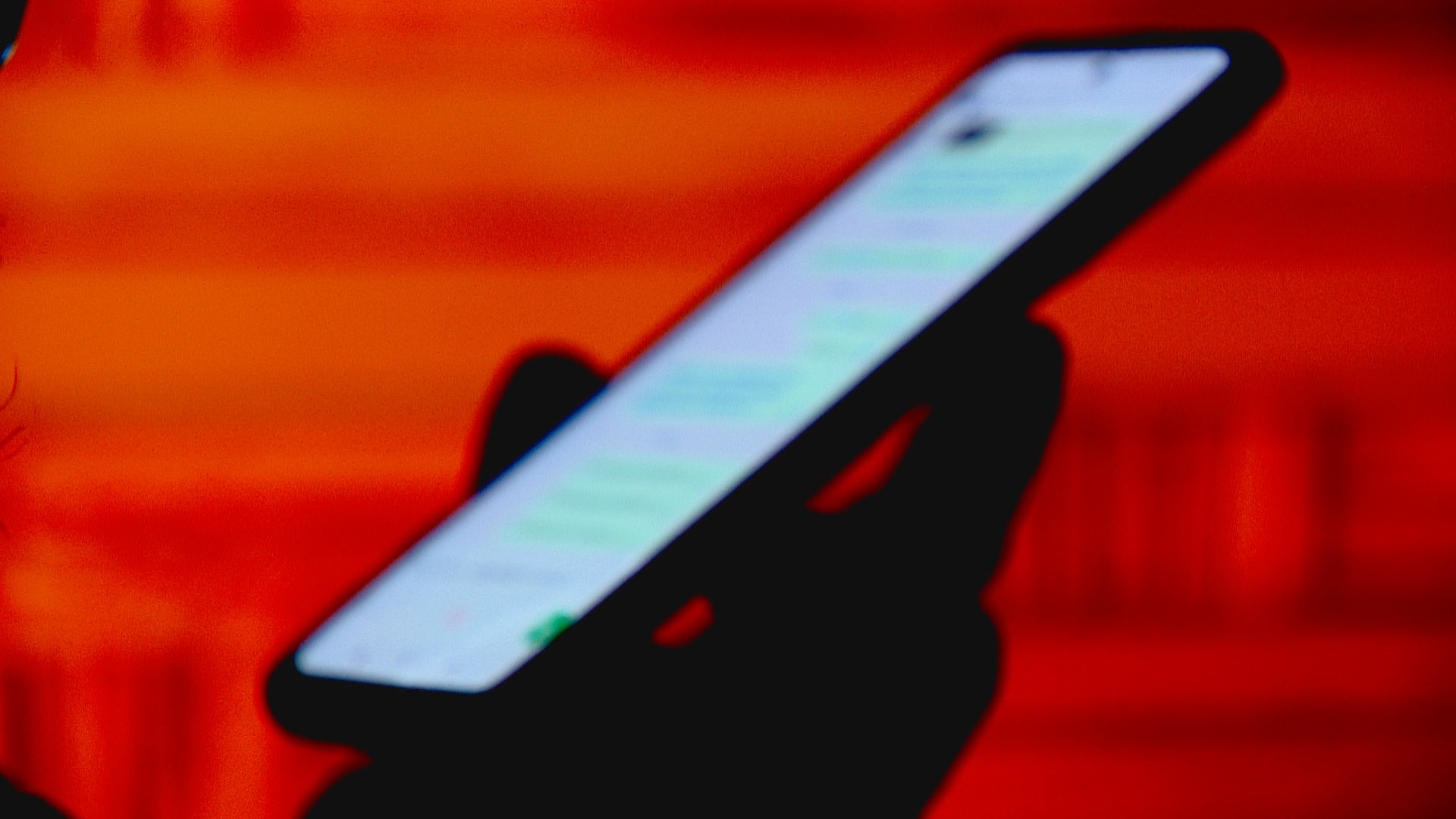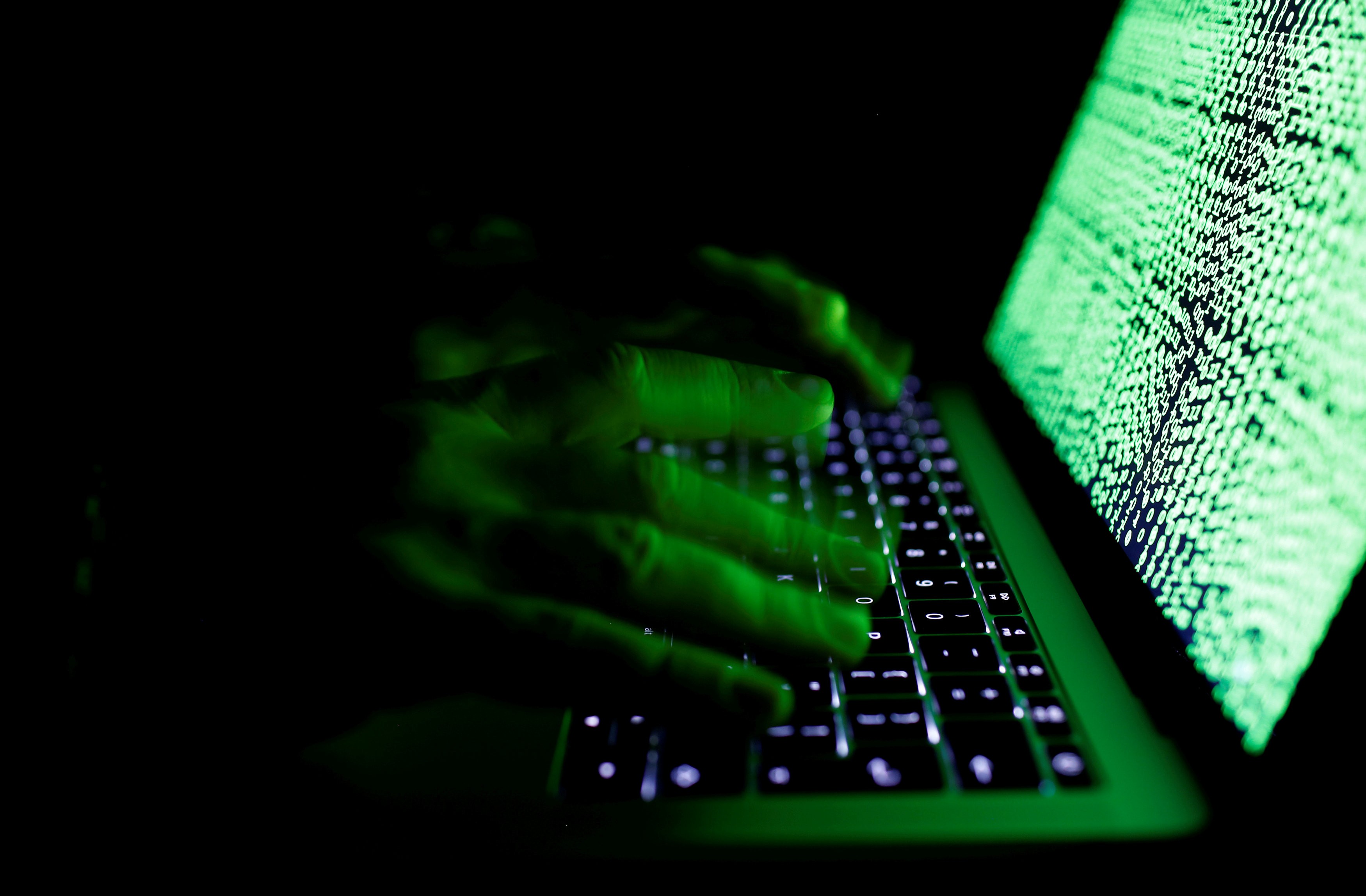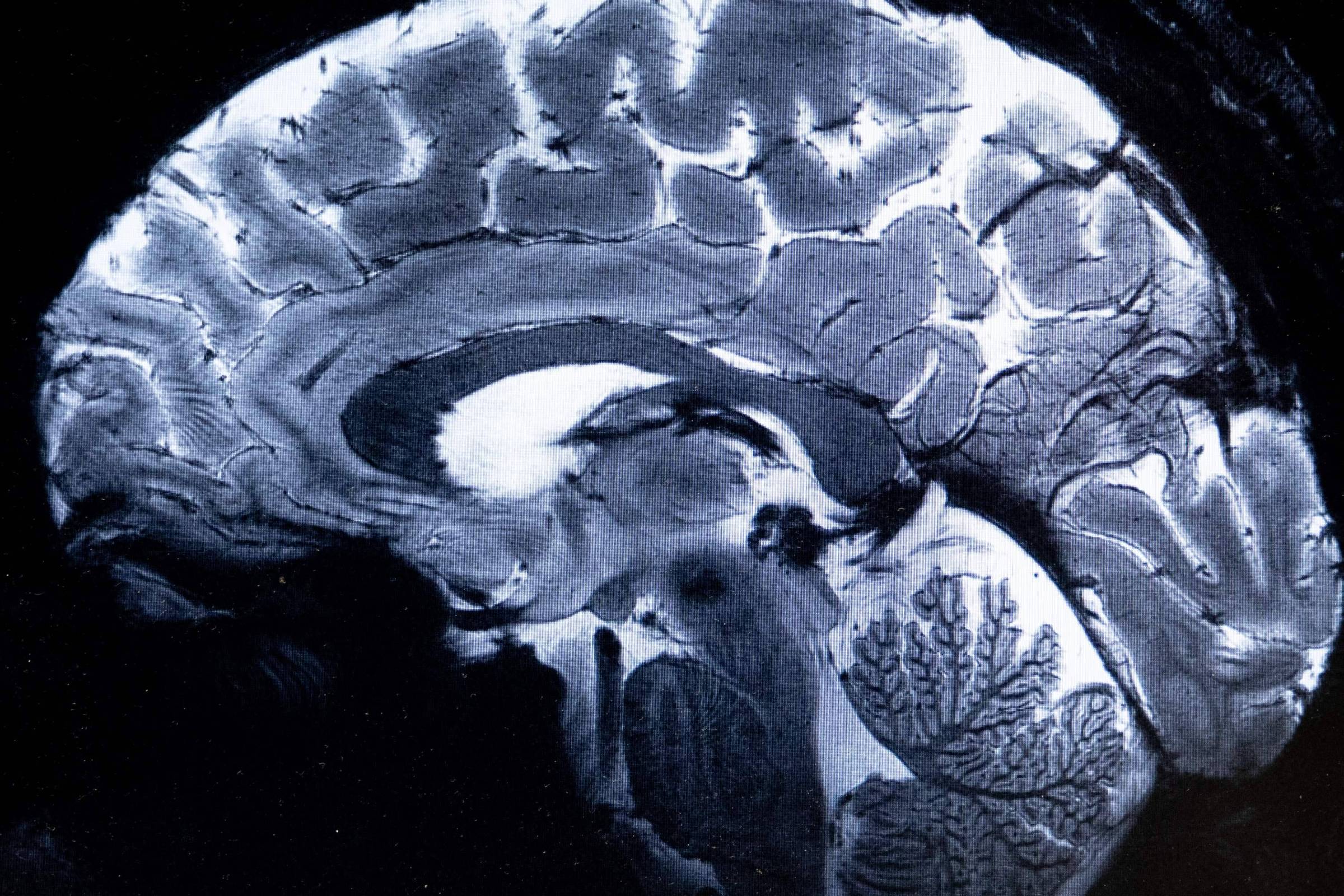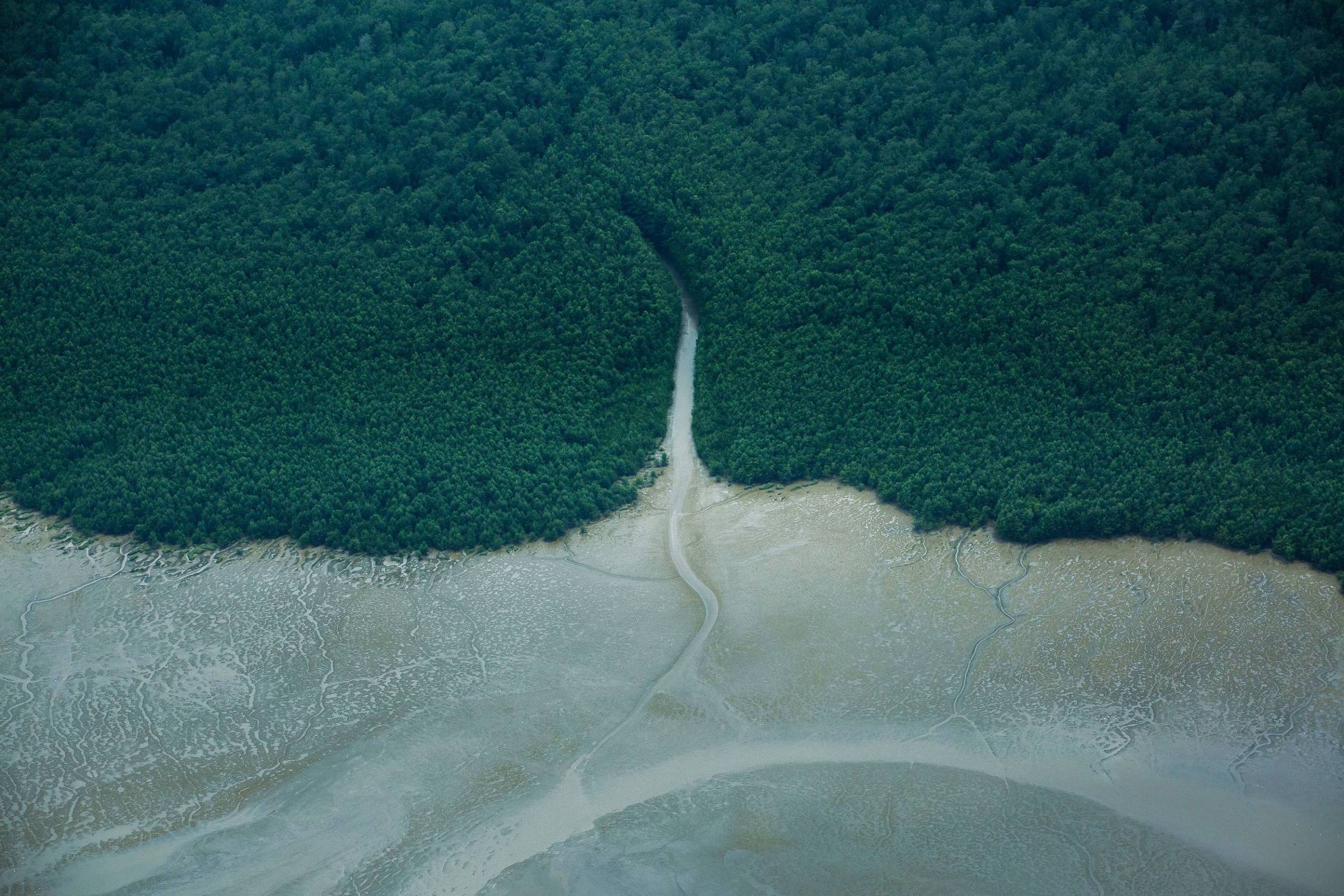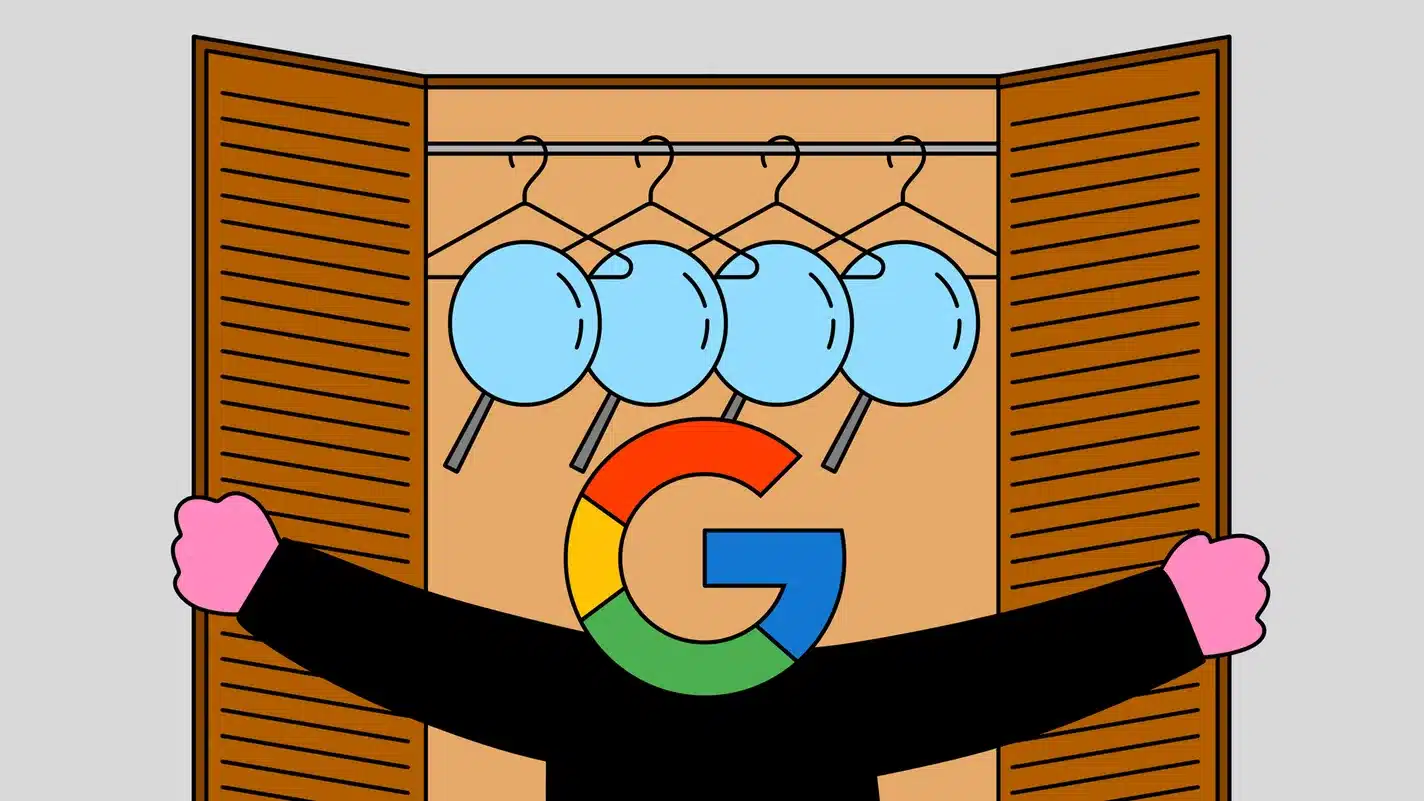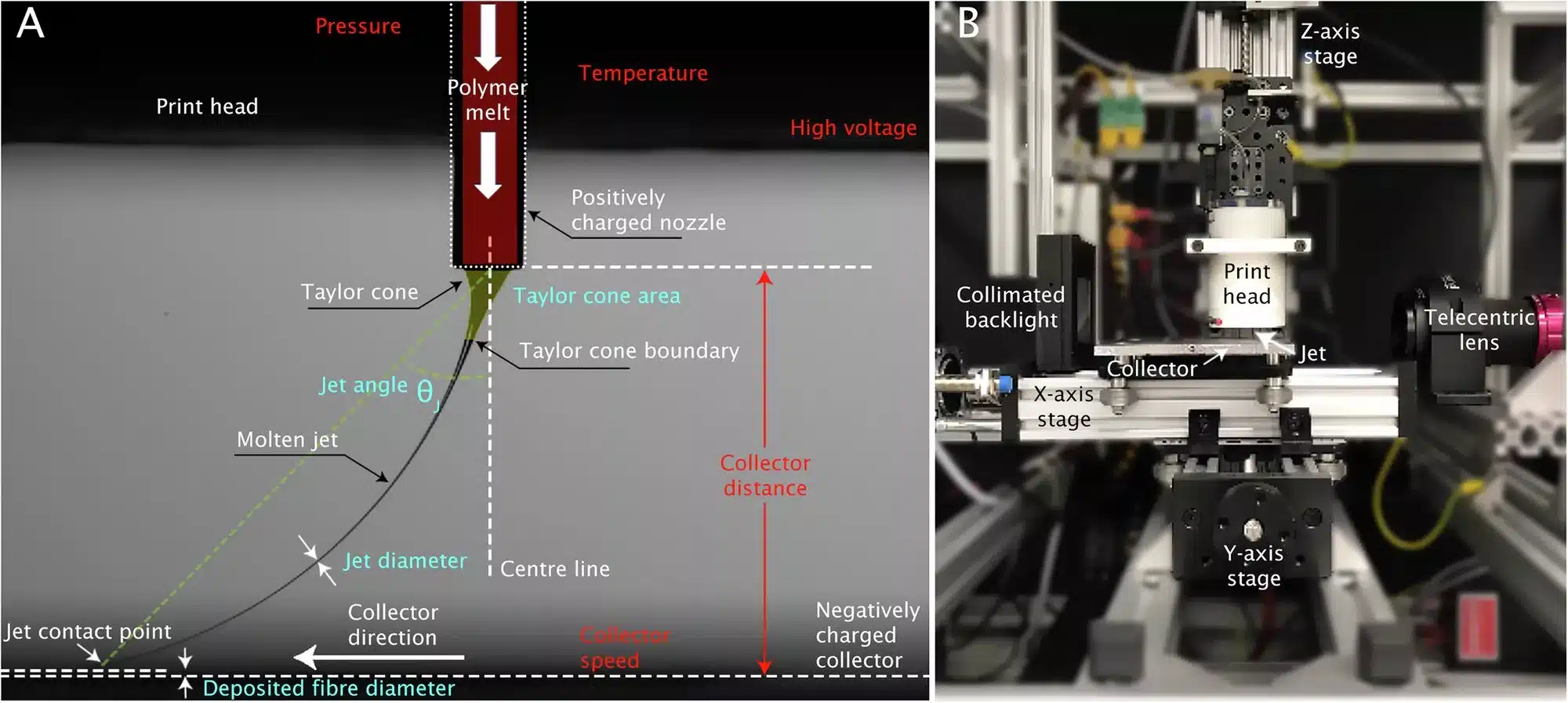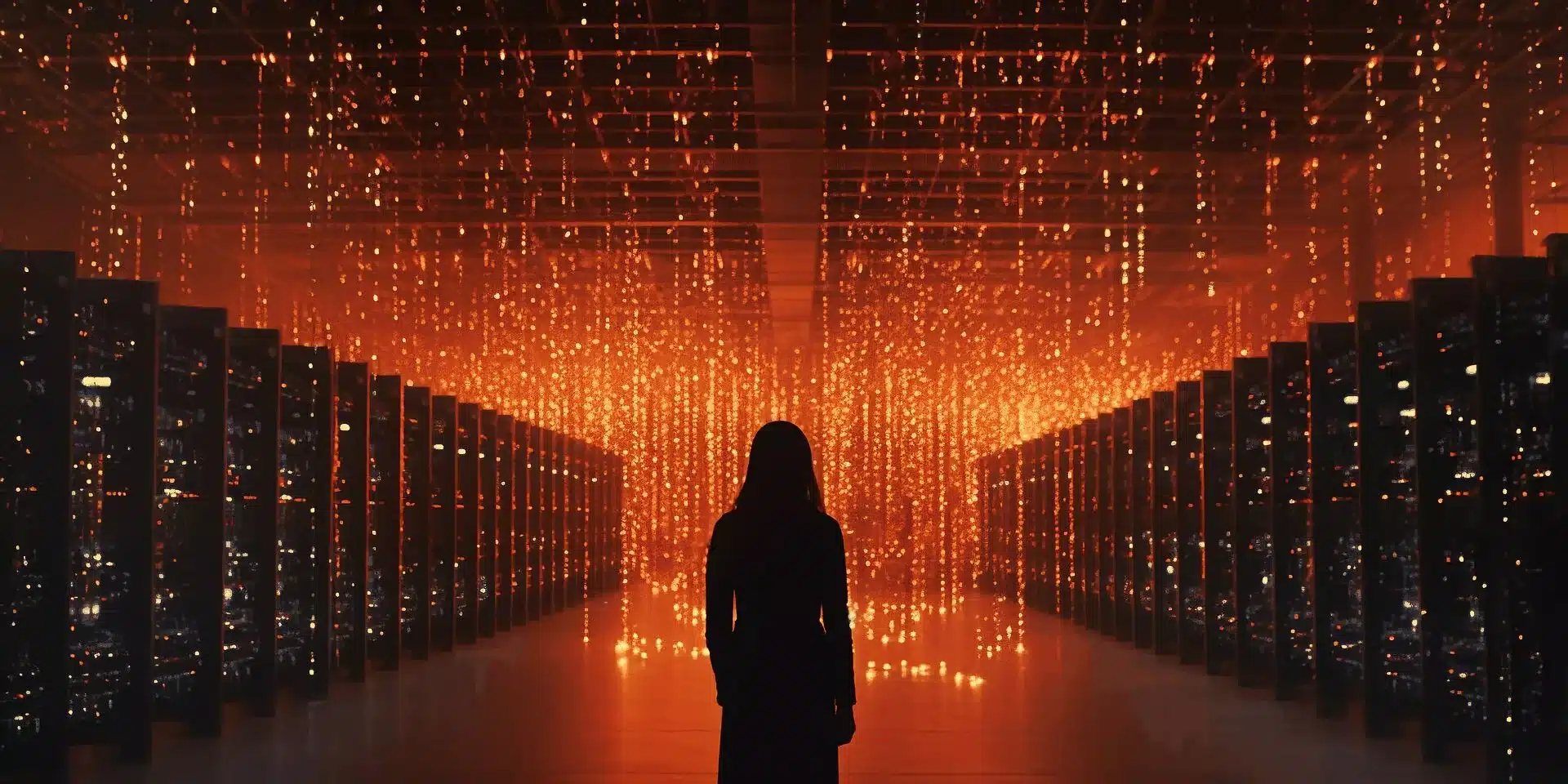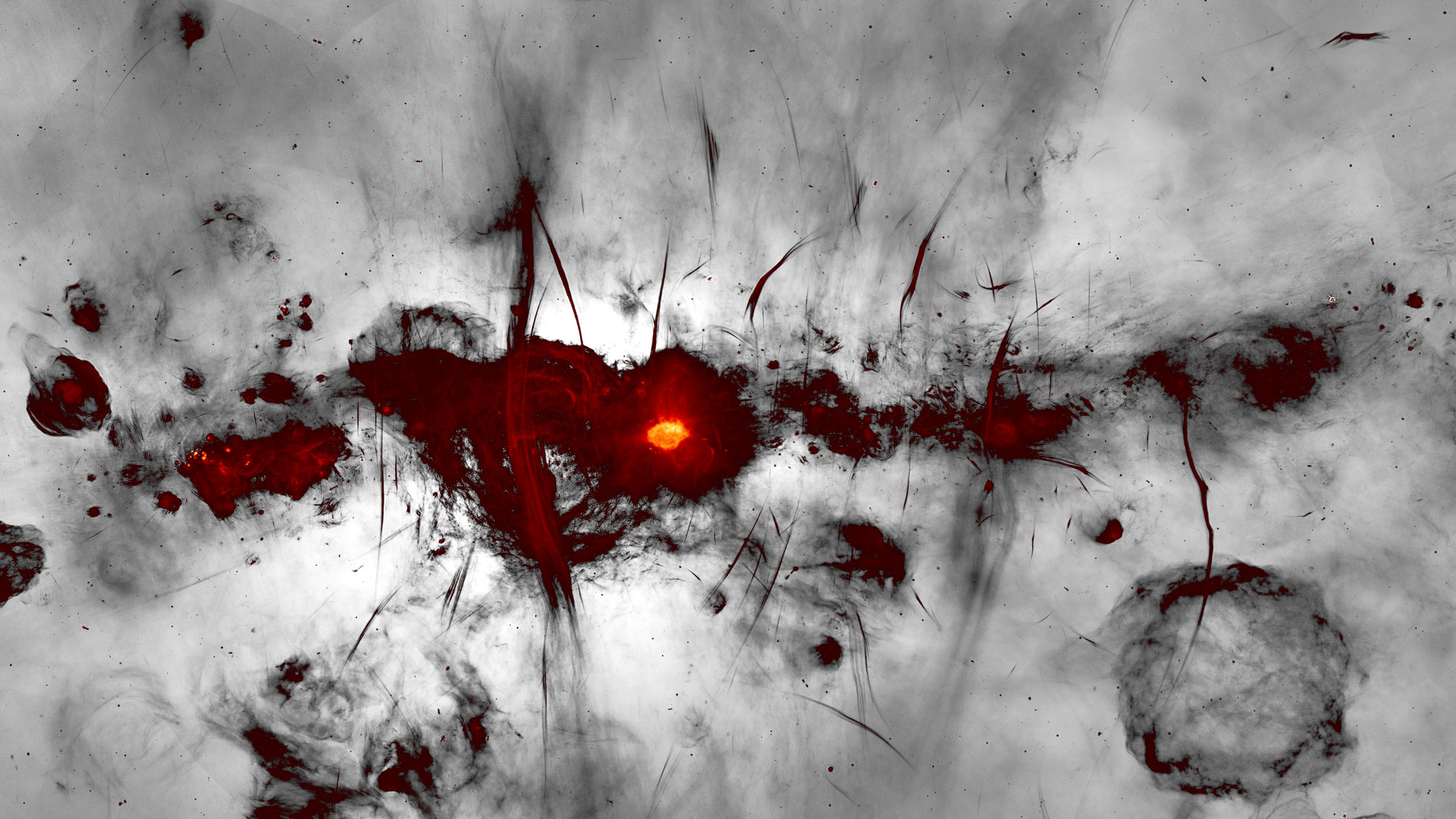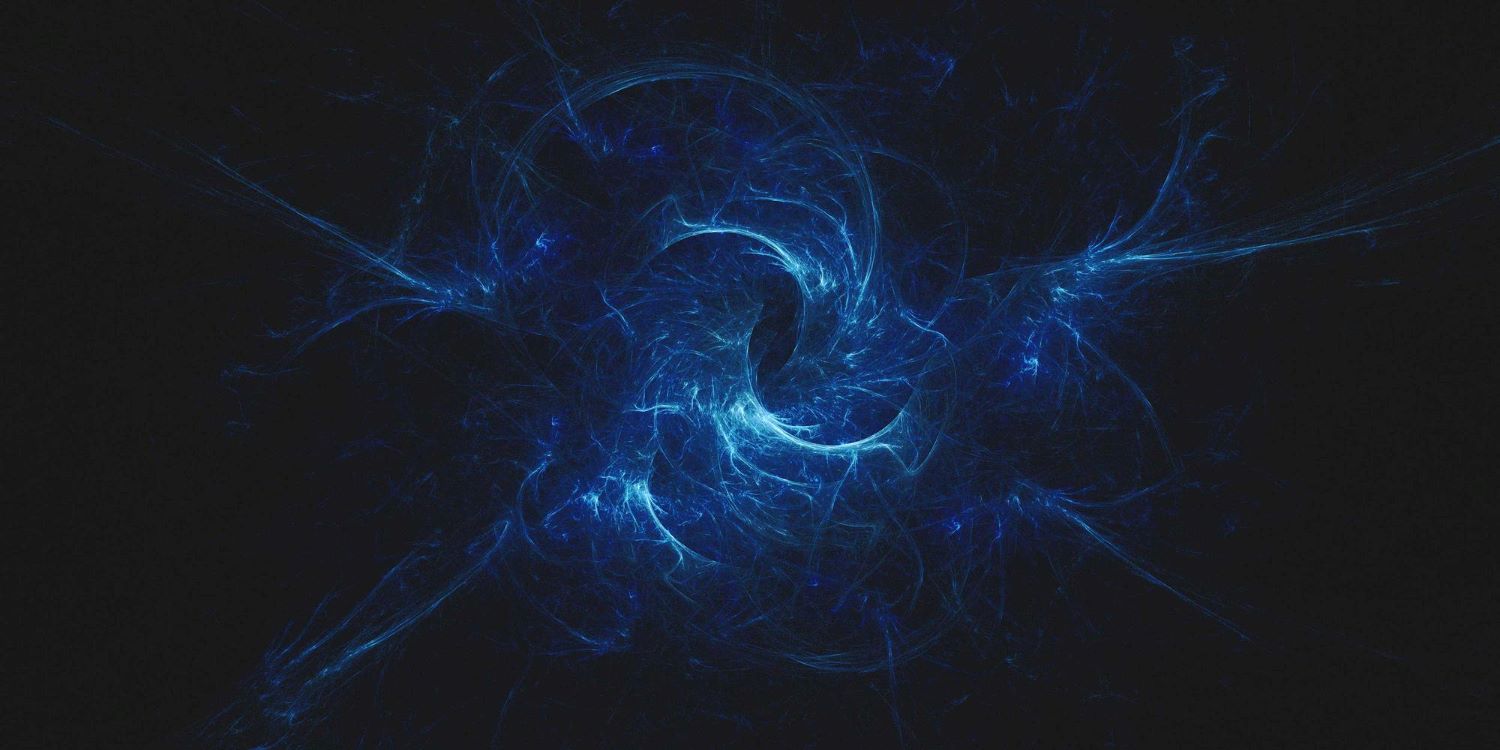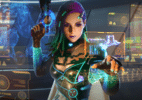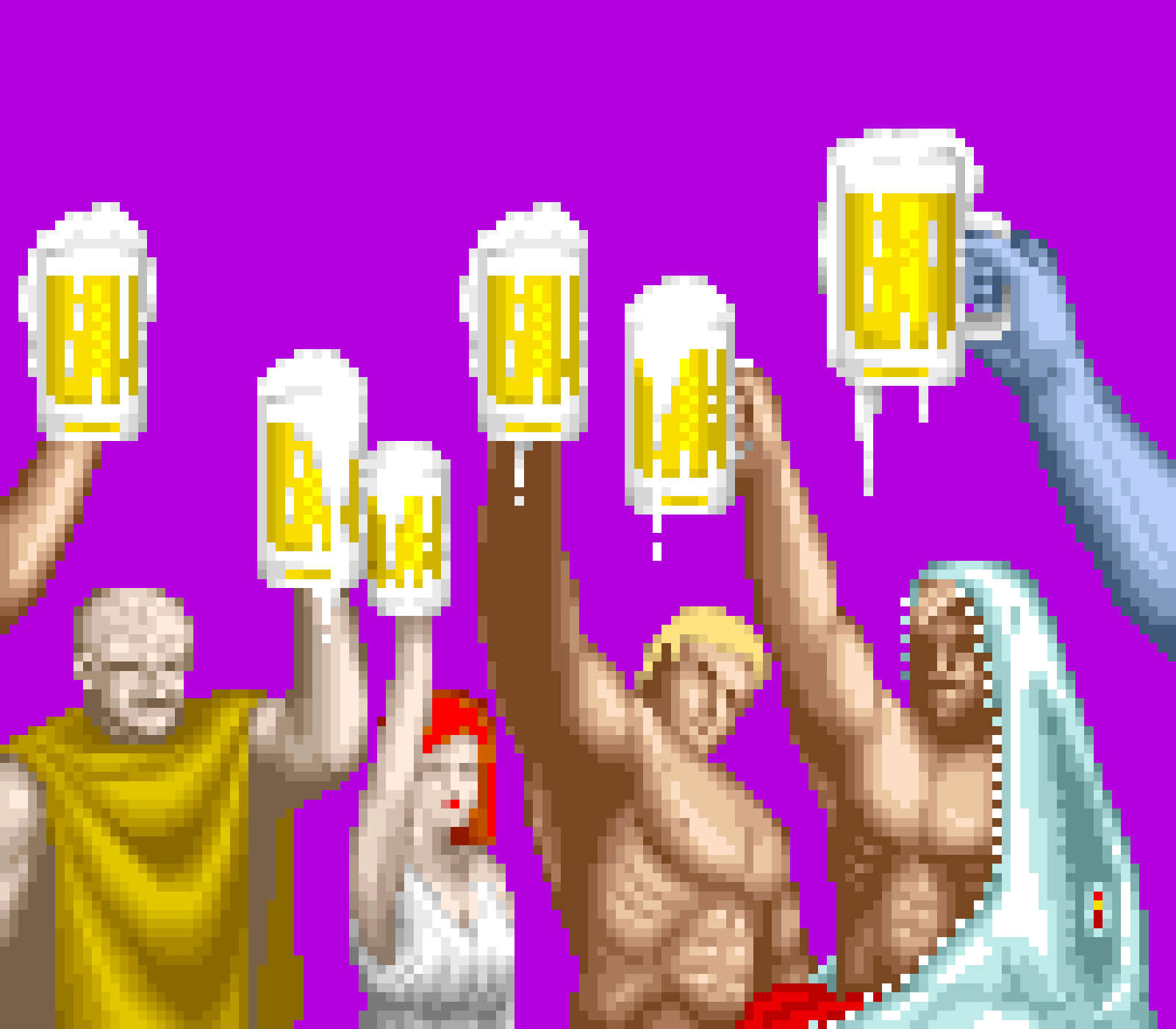Como surgiu o polêmico sistema de classificação etária nos jogos?
Toda vez que você compra um jogo, já deve ter notado um número localizado geralmente na parte inferior da capa. Trata-se da classificação etária do game, que mostra a idade adequada para jogar o título. Você deve lembrar que, quando muitos deles sequer eram vendidos oficialmente no Brasil, era possível encontrar estes através das siglas ESRB (Estados Unidos), PEGI (Europa) ou até CERO (Japão). 8 piores capas de jogos de todos os tempos 8 videogames que prometeram tudo e não entregaram nada Apesar de estar presente em toda a indústria gamer atualmente, de onde diabos veio isso? Afinal de contas, se olharmos um pouco mais para o passado, isso sequer existia no Atari, Intellivision e outros consoles clássicos. Em termos mais claros, vivíamos em uma “terra sem lei”, com títulos eróticos dividindo a prateleira com um encanador bigodudo e um carinha que chamavam de “Come-Come”. Claro que isso não era um problema (cof cof), era comum frequentar locadoras e estabelecimentos e ver todos eles juntos e sendo vendidos para quem estivesse com o dinheiro nas mãos: crianças, jovens, adultos. Não importava tanto. Porém, assim como a Pablo Vittar nos tempos modernos, um jogo da era 16-bits foi longe demais: Mortal Kombat. -Entre no Canal do WhatsApp do Canaltech e fique por dentro das últimas notícias sobre tecnologia, lançamentos, dicas e tutoriais incríveis.- Era de sangue nos 16-bits Ah, os anos 1990! Essa época foi incrível para os gamers, com um salto expressivo de gráficos entre o NES e o Super Nintendo, assim como a presença do Mega Drive no mercado. Os jogos nunca foram tão lindos, cheios de detalhes e com uma qualidade visual ímpar. Nem parecia que 10 anos antes ainda víamos apenas pontos coloridos na tela e chamávamos de “o ápice dos videogames”. Olha que gráficos realistas de Mortal Kombat!!! (Imagem: Reprodução/Midway Games) Isso permitia que os desenvolvedores se aventurassem mais e trouxessem grandes jogos para os arcades, PCs e consoles. Com isso, a Midway Games e a Acclaim decidiram levar uma experiência que estava virando a cabeça da molecada nos fliperamas para o SNES e Mega Drive, chamada de Mortal Kombat. Com uma técnica fotorrealista, o título dava a impressão de que estávamos vendo pessoas reais se batendo. E melhor ainda, trazia membros do corpo decepados, cabeças arrancadas, gritos de desespero e muita violência. Tudo o que a família mais gosta em seu console de mesa (só que não). Lançado nos consoles domésticos em 1993, Mortal Kombat expandiu o sucesso estrondoso visto no ano anterior nos fliperamas. Quem viu, queria jogar ele. Quem não viu, ouvia de quem viu e também estava louco para botar as mãos nesse verdadeiro massacre digital. E quem era esperto (ou comprava as revistas de videogame daquela época, outra grande saudade) tinha consigo um código para usar no Mega Drive e habilitar os efeitos de sangue. Acredita-se que os tons de vermelho nunca tiveram taxas tão altas quanto naquela época com as TVs de tubo. Já a versão de Super Nintendo, seguindo as tendências da fabricante, era mais careta: o sangue foi substituído por suor e os movimentos não eram tão violentos assim. Isso não tirava a diversão de destruir seu adversário na porrada — de formas mais animalescas do que as vistas no descolado Street Fighter II —, porém impedia a proposta brilhante da franquia. Imagine que maravilha foi isso para os pais e políticos. No mesmo ano, tivemos também Lethal Enforcers, que utiliza fotografias digitalizadas para reforçar seu visual no confronto entre policiais e bandidos, trazendo violência gráfica. Justamente um ano depois vimos Night Trap, um jogo onde você tinha de proteger jovens moças de serem caçadas por vampiros, de formas bem violentas e com um certo teor de sensualidade. Night Trap era um jogo voltado para o público adulto (Imagem: Reprodução/SEGA) Mesmo que Night Trap não seja tão sensual assim para os padrões atuais e Mortal Kombat apresentasse apenas pixels como violência, nada disso soou bem para os conservadores. Por conter temas adultos e trazer agressões (e seus resultados) de forma mais explícita, um verdadeiro movimento começou nos Estados Unidos. O objetivo era impedir que as crianças tivessem acesso a esse tipo de conteúdo. Sem a classificação etária, qualquer pessoa poderia ir até uma loja e comprar os jogos. No máximo víamos um Custer’s Revenge que determinava em sua capa que o título continha conteúdo adulto e não poderia ser comercializado para menores de idade — por razões óbvias, diga-se de passagem. Vale notar que tudo ocorreu durante a guerra dos consoles entre a Nintendo e a SEGA. Com o sucesso estrondoso de Street Fighter II, ambas buscavam outro grande título de luta e encontraram em Mortal Kombat a chance de brilhar. Mesmo censurado, o título foi o grande destaque de ambas em 1993 — com destaque em revistas, nas campanhas publicitárias e se tornando um símbolo temporário dos saltos gráficos da época. Somado ao pânico moral que políti


Toda vez que você compra um jogo, já deve ter notado um número localizado geralmente na parte inferior da capa. Trata-se da classificação etária do game, que mostra a idade adequada para jogar o título. Você deve lembrar que, quando muitos deles sequer eram vendidos oficialmente no Brasil, era possível encontrar estes através das siglas ESRB (Estados Unidos), PEGI (Europa) ou até CERO (Japão).
Apesar de estar presente em toda a indústria gamer atualmente, de onde diabos veio isso? Afinal de contas, se olharmos um pouco mais para o passado, isso sequer existia no Atari, Intellivision e outros consoles clássicos. Em termos mais claros, vivíamos em uma “terra sem lei”, com títulos eróticos dividindo a prateleira com um encanador bigodudo e um carinha que chamavam de “Come-Come”.
Claro que isso não era um problema (cof cof), era comum frequentar locadoras e estabelecimentos e ver todos eles juntos e sendo vendidos para quem estivesse com o dinheiro nas mãos: crianças, jovens, adultos. Não importava tanto. Porém, assim como a Pablo Vittar nos tempos modernos, um jogo da era 16-bits foi longe demais: Mortal Kombat.
-
Entre no Canal do WhatsApp do Canaltech e fique por dentro das últimas notícias sobre tecnologia, lançamentos, dicas e tutoriais incríveis.
-
Era de sangue nos 16-bits
Ah, os anos 1990! Essa época foi incrível para os gamers, com um salto expressivo de gráficos entre o NES e o Super Nintendo, assim como a presença do Mega Drive no mercado. Os jogos nunca foram tão lindos, cheios de detalhes e com uma qualidade visual ímpar. Nem parecia que 10 anos antes ainda víamos apenas pontos coloridos na tela e chamávamos de “o ápice dos videogames”. 
Isso permitia que os desenvolvedores se aventurassem mais e trouxessem grandes jogos para os arcades, PCs e consoles. Com isso, a Midway Games e a Acclaim decidiram levar uma experiência que estava virando a cabeça da molecada nos fliperamas para o SNES e Mega Drive, chamada de Mortal Kombat.
Com uma técnica fotorrealista, o título dava a impressão de que estávamos vendo pessoas reais se batendo. E melhor ainda, trazia membros do corpo decepados, cabeças arrancadas, gritos de desespero e muita violência. Tudo o que a família mais gosta em seu console de mesa (só que não).
Lançado nos consoles domésticos em 1993, Mortal Kombat expandiu o sucesso estrondoso visto no ano anterior nos fliperamas. Quem viu, queria jogar ele. Quem não viu, ouvia de quem viu e também estava louco para botar as mãos nesse verdadeiro massacre digital.
E quem era esperto (ou comprava as revistas de videogame daquela época, outra grande saudade) tinha consigo um código para usar no Mega Drive e habilitar os efeitos de sangue. Acredita-se que os tons de vermelho nunca tiveram taxas tão altas quanto naquela época com as TVs de tubo.
Já a versão de Super Nintendo, seguindo as tendências da fabricante, era mais careta: o sangue foi substituído por suor e os movimentos não eram tão violentos assim. Isso não tirava a diversão de destruir seu adversário na porrada — de formas mais animalescas do que as vistas no descolado Street Fighter II —, porém impedia a proposta brilhante da franquia.
Imagine que maravilha foi isso para os pais e políticos. No mesmo ano, tivemos também Lethal Enforcers, que utiliza fotografias digitalizadas para reforçar seu visual no confronto entre policiais e bandidos, trazendo violência gráfica. Justamente um ano depois vimos Night Trap, um jogo onde você tinha de proteger jovens moças de serem caçadas por vampiros, de formas bem violentas e com um certo teor de sensualidade. 
Mesmo que Night Trap não seja tão sensual assim para os padrões atuais e Mortal Kombat apresentasse apenas pixels como violência, nada disso soou bem para os conservadores. Por conter temas adultos e trazer agressões (e seus resultados) de forma mais explícita, um verdadeiro movimento começou nos Estados Unidos. O objetivo era impedir que as crianças tivessem acesso a esse tipo de conteúdo.
Sem a classificação etária, qualquer pessoa poderia ir até uma loja e comprar os jogos. No máximo víamos um Custer’s Revenge que determinava em sua capa que o título continha conteúdo adulto e não poderia ser comercializado para menores de idade — por razões óbvias, diga-se de passagem.
Vale notar que tudo ocorreu durante a guerra dos consoles entre a Nintendo e a SEGA. Com o sucesso estrondoso de Street Fighter II, ambas buscavam outro grande título de luta e encontraram em Mortal Kombat a chance de brilhar. Mesmo censurado, o título foi o grande destaque de ambas em 1993 — com destaque em revistas, nas campanhas publicitárias e se tornando um símbolo temporário dos saltos gráficos da época.
Somado ao pânico moral que políticos e autoridades foram responsáveis naquela época, isso levou a um grande debate público em 1993. Em dezembro daquele ano, os senadores Joseph Lieberman e Herb Kohl, da Comissão do Senado sobre Assuntos Governamentais e Judiciários, organizaram uma audiência com grandes nomes da indústria dos games. 
Na ocasião, estavam o vice-presidente da Nintendo of America, Howard Lincoln, e o vice-presidente da SEGA of America, Bill White. Enquanto a intenção era discutir como eles propagavam jogos como Mortal Kombat e Night Trap em consoles para crianças, o teor foi bem diferente. No fim das contas, eles utilizaram a audiência para atacar um ao outro.
Ou seja, além de não conseguirem debater o problema de fato, criaram um verdadeiro climão entre Nintendo e SEGA em plena guerra dos consoles. A preocupação dos senadores era na utilização de réplicas de figuras humanas nos jogos, ao invés do uso de versões cartunizadas como visto em Eternal Champions e Time Killers.
Vendo que nenhuma das duas ia se mexer em prol desse movimento, os senadores deram um ultimato: ou elas criariam um sistema de classificação etária em seus games, ou ele seria criado pelo Governo. A pressão dos políticos e dos movimentos populares ganhou mais força, o que botou ambas as companhias contra a parede.
O objetivo não era impedir apenas uma parte do problema, mas ele por completo. Pais e órgãos governamentais não queriam que as crianças tivessem acesso algum a jogos do gênero. E o caminho era regular o que elas podiam ou não jogar a partir de determinada idade.
A única forma de burlar isso seria através da “máfia da molecada” nas escolas: bastava uma criança ter pais desatentos para comprar o game e ele ser emprestado para todos os colegas (o mesmo que ocorre nos dias atuais com GTA).
O primeiro passo da classificação etária
A única empresa que acatou o pedido foi a SEGA, no mesmo ano de 1993. Ela criou um sistema de classificação etária chamado Videogame Rating Council (VRC) e, através dele, os títulos seriam cadastrados como GA, MA-13 e MA-17. Diga-se de passagem, essa foi uma excelente saída e uma boa forma de conter a pressão que vinha do público e do Governo. 
Mas adivinha quem não queria aderir à regulação da concorrência? Isso mesmo, a Nintendo. Além de não apresentar qualquer tipo de proposta para se autorregular, ela não aceitava de jeito nenhum ser classificada pela SEGA. Com o método não sendo aceito, ambas corriam alto risco de terem de se submeter à classificação governamental — o que não era menos perigoso e problemático.
Com a comissão do Senado no cangote das duas e sob o risco de verem políticos (cada um com seus ideais e motivações) falarem se os seus games podem ser jogados ou não pelo público, surgiu uma figura para salvá-los deste intenso e longo debate.
A indústria, representada pela Interactive Digital Software Association (IDSA) — hoje Entertainment Software Association (ESA) — se uniu para criar o Entertainment Software Rating Board (ESRB) em 1994. A intenção era manter um sistema similar ao visto nos cinemas, mas com considerações adicionais para a interatividade dos videogames. 
O ESRB apresentou um sistema bem consistente, que acabou sendo aceito pelo governo dos Estados Unidos e pelo público. Para se certificar de que jogos adultos seriam vendidos para maiores de idade, as lojas exigiam identificação via foto para enviar aos responsáveis. Outro ponto que garantiu uma segurança maior aos pais e autoridades era que as lojas não podiam vender games sem classificação etária.
Da parte das fabricantes de consoles, elas não poderiam licenciar os jogos em seu sistema sem a presença do selo. Isso foi o suficiente para acalmar os ânimos de todos e manter a indústria gamer nos trilhos que conhecemos: anos depois, vimos a chegada do PlayStation, Nintendo 64, Game Boy Color e SEGA Saturn, que já aderiram ao formato.
Porém, nem tudo foram flores com a classificação etária dos games. Estúdios e desenvolvedores se “autocensuravam” para que seu título não fosse registrado como Adults Only (Apenas para Adultos). Os grandes fabricantes e as lojas se recusaram a vender estes, o que impediu muitos de exporem sua verdadeira visão para determinados jogos a partir deste ponto.
Como funciona a classificação etária ESRB?
Quando foi criada, a ESRB tinha a proposta de expor o conteúdo dos jogos, tanto para os pais quanto para as lojas que os vendiam. Ou seja, o selo tinha de estar localizado na parte da frente da arte da capa, de forma clara e visível. Isso significa que qualquer título precisava disso para ser vendido nos Estados Unidos.
A classificação etária se divide entre as seguintes categorias:
- E (Everyone, ou Todos em tradução livre): jogos que podem ser jogados por pessoas de todas as idades, adequados para crianças pequenas
- E10+ (Everyone 10+, ou Todos com 10 anos ou mais): feitos para as crianças de 10 a 13 anos, ele podia trazer um certo grau de violência ou temas mais sugestivos
- T (Teen, ou Adolescente em tradução livre): feitos para jovens entre 13 e 17 anos, estes podiam conter violência gráfica mais acentuada, humor depreciativo, pequenas doses de sangue, simulação de apostas ou de linguagem um pouco mais pesada
- M 17+ (Mature, ou Maduro em tradução livre): categoria feita para as pessoas acima de 17 anos, podem conter violência pesada, representação de sangue, conteúdo sexual e linguagem pesada — como palavrões e ofensas sérias
- AO (Adults Only, ou Apenas Adultos em tradução livre): feito para maiores de 18 anos, aqui é o que consideramos “tudo está liberado”. O jogo pode ter muita violência, cenas com nudez e de teor sexual, apostas e trazer temas que são considerados muito pesados
Já entre os fatores que podem representar o diferencial para essas categorias, estão os seguintes:
- Referência ao Álcool
- Sangue
- Travessura Cômica
- Referência a Drogas
- Temas de Apostas
- Sangue Animado
- Sangue e Cenas Sangrentas
- Humor Bruto
- Violência Visual
- Violência Intensa
- Linguagem
- Humor Adulto
- Nudez Parcial
- Conteúdo Sexual
- Violência Sexual
- Linguagem Forte
- Forte Conteúdo Sexual
- Referência ao Cigarro
- Uso de Drogas
- Violência
- Músicas
- Nudez
- Apostas Reais
- Temas Sexuais
- Apostas Simuladas
- Músicas Fortes
- Temas Sugestivos
- Uso de Álcool
- Uso de Cigarro
- Referências Violentas
Ainda que o sistema ESRB tenha sido criado em 1994, ele demorou para ser utilizado em outros territórios. O Japão, por exemplo, só implementou o CERO em 2002. Já a Europa trouxe o PEGI no ano de 2003. Como podem notar, ambos no auge de plataformas como o PS2, GameCube e do primeiro Xbox. 
Classificação etária no Brasil
No Brasil, o Ministério da Justiça já contava com a Classind desde os anos 1990 para classificar filmes, séries e programas de TV. Com o avanço dos jogos eletrônicos, ele passou a ser utilizado também para gerar uma classificação indicativa neste mercado.
Ele é formado por uma equipe de 30 servidores de formações acadêmicas variadas. Ela nunca é atribuída de forma individual e tem de passar pelo menos por dois analistas. Não havendo consenso, o grupo é ampliado para verificar o conteúdo. Todos os jogos, obrigatoriamente, precisam de seu selo para serem oficialmente vendidos no país — seja na versão física ou na digital.
Os games podem pertencer às seguintes categorias:
- L: livre para todas as idades
- 10: não recomendado para menores de 10 anos
- 12: não recomendado para menores de 12 anos
- 14: não recomendado para menores de 14 anos
- 16: não recomendado para menores de 16 anos
- 18: não recomendado para menores de 18 anos
Entre os principais fatores que determinam em qual categoria cada jogo entrará, estão os diferentes níveis de violência, presença de nudez e/ou sexo e o uso de drogas lícitas e/ou ilícitas.
Vale lembrar que estes são extremamente importantes, já que impactam como o público de todo o Brasil consome conteúdo (não apenas relacionado aos games) dentro do país. É através dele que é definido quais programas podem passar em qual horário na TV aberta, por exemplo, assim como a presença de filmes e séries (DVDs e Blu-Rays) nas lojas e sites especializados. 
O Classind também permite que desenvolvedores e estúdios de videogames submetam uma autoclassificação, que passará por um processo de verificação pelos servidores responsáveis antes de ser aprovado. Este procedimento ocorre desde 2012 e agiliza todo o processo de regularização dos games no Brasil. No entanto, isso vale apenas para mídias digitais em lojas como Steam, PS Store e outros.
Além disso, nos jogos, o Brasil segue os padrões estabelecidos pela International Age Rating Coalition (IARC), grupo que surgiu em 2013 e faz a classificação etária de forma consistente para diversos países. Através de um questionário, eles identificam se um título possui microtransações, se coletam e compartilham informações dos usuários e entre outras atribuições — facilitando ainda mais todo o processo.
Impacto e controvérsias
A classificação etária nos jogos foi um divisor de águas para a indústria gamer, seja para o bem ou para o mal. O lado bom é que ela auxilia os pais a compreenderem melhor o tipo de conteúdo que as crianças vão consumir. Ainda que acompanhar, ver vídeos e ler sobre seja um diferencial maior para entender a proposta dos games, hoje em dia os responsáveis legais podem ir em uma loja e confiar nas informações da capa.
Ainda que alguns não vejam problemas, muitos acreditam que crianças e jovens não deveriam ter contato com todo o tipo de experiência, que inclui, atualmente, Mortal Kombat, GTA, Resident Evil, DOOM e outros que trazem um alto teor gráfico de sangue e temas fortes. Ao menos o Classind, ESRB, PEGI e os demais auxiliam para deixar estas informações claras.
Mesmo assim, há alguns problemas pontuais em relação ao sistema. O primeiro é sobre a autocensura dos estúdios e desenvolvedores. Para atingir um público maior, muitos se limitam e não expressam o que realmente desejavam para os seus jogos — buscando atingir classificação entre 12 e 14 (“T” no ESRB) ao invés do 18 (“AO” no ESRB) para ser comercializado em pé de igualdade com os demais.
Toda esta questão gerou alguns problemas entre os estúdios, o público e os órgãos de regularização. Manhunt 2, lançado pela Rockstar em 2007, é um grande exemplo disso. Inicialmente o jogo foi proibido de ser vendido no Reino Unido pela British Board of Film Classification (BBFC) e recebeu uma classificação etária de Adults Only pelo ESRB nos Estados Unidos. Ou seja, suas vendas seriam extremamente limitadas. 
Somado à questão de que a Nintendo, Microsoft e a Sony também não licenciavam oficialmente a presença de títulos “AO” em seus consoles, isso gerou problemas ainda maiores. A Rockstar e a Take-Two tiveram de censurar uma grande parte do jogo, borrando a tela durante execuções, removendo o sistema de pontuação por atos brutais e várias outras atribuições para submeter a novas avaliações.
Ainda que países como a Alemanha e a Malásia mantivessem o jogo banido, os Estados Unidos reavaliaram e permitiram que a classificação etária mudasse para “M”. Isso provocou toda a indústria e população, que contestaram de todas as formas: tanto as mudanças realizadas pela Rockstar quanto às normas do ESRB que “afrouxaram” seu lançamento. Mesmo em meio ao caos, ele foi comercializado normalmente.
Enquanto isso, de fato, ajuda os games a serem socialmente aceitos e estarem presentes nas lojas (o que gera mais chances de gerar um sucesso), no fim os estúdios não contam as histórias que desejavam da forma como conceberam a ideia. Priorizando a presença e as vendas, não se discute como há conteúdos que realmente não são feitos para crianças e jovens e que está tudo bem nisso.
Também há casos em que a classificação etária pode ocasionar até mesmo a censura dos jogos. Países como a Austrália, por exemplo, não aceitam a comercialização de games produzidos para um público adulto. Títulos como Saints Row 4, South Park: The Stick of Truth, Hotline Miami 2, State of Decay e, mais recentemente, Hunter x Hunter: Nen x Impact são alguns exemplos de conteúdos que não foram permitidos no país. 
No Brasil isso também ocorreu com alguns games, como Carmageddon, Duke Nukem 3D, Doom, Blood, Counter-Strike, EverQuest, Bully e GTA IV: The Ballad of Gay Tony. Como pode notar, algumas foram revertidas com o passar do tempo, mas é um risco que toda experiência eletrônica corre durante o período de lançamento ou de alta popularidade.
A classificação etária também teve de passar por ajustes para incorporar novos recursos e tecnologias. Com a geração PS3 e Xbox 360, por exemplo, tivemos a ascensão das interações online e os órgãos responsáveis tinham de alertar os pais que seus filhos poderiam bater papo com outras pessoas pelo videogame.
Outro aspecto importante que surgiu no decorrer dos anos é a presença de microtransações. Não bastava apenas comprar os jogos, mas parte dos estúdios criou um verdadeiro comércio dentro de cada experiência que podia trazer gastos ainda maiores. Quem não queria aquela cartinha no Ultimate Team do FIFA ou uma skin bacana em Fortnite e Overwatch? Logo, isso virou uma questão relevante e teve de ser incluída na regularização.
Entre trancos e barrancos
A classificação etária sofreu diversas mudanças desde o pânico moral no início dos anos 1990. Concebida para impedir que jogos como Mortal Kombat, Lethal Enforcers e Night Trap chegassem nas crianças, um sistema extremamente eficaz e cheio de nuances foi criado em todo o planeta — o que ajuda pais e lojas a entenderem melhor os jogos no geral.
Por exemplo, um GTA com classificação 12 (não recomendado para menores de 12 anos) no Brasil geraria muitos estranhamentos e questões. Assim como os jogos LEGO, que vem ao nosso país na categoria L (Livre), tivessem algum game na categoria 16 ou 18. O público gostando ou não, ela ajuda a conhecer melhor os limites de várias franquias e experiências. 
Ainda que repleto de boas intenções, a classificação etária também criou algumas dores de cabeça. Estúdios passaram a autocensurar suas obras, tentando atingir um mercado que aprovasse determinados jogos — já que, pelo contrário, nem mesmo as lojas ou plataformas digitais aceitariam comercializar determinados títulos.
No fim das contas, há mais benefícios do que ressalvas, mas é algo que deve continuar sendo ponderado com muito cuidado e atenção. Público, estúdios e grandes fabricantes devem compreender que há histórias e interações para crianças, outras para jovens e algumas para adultos. As três podem coexistir, sem a necessidade de banimentos (a não ser que quebre a lei, como os sistemas de loot boxes em países que proíbem jogos de azar).
O Classind, CERO, ESRB e os demais têm um papel fundamental em atribuir uma recomendação para aquele tipo de conteúdo. Porém, é sobre isso que se trata a classificação etária: um sinal de alerta. Quantas vezes já não vimos ou soubemos de pais que compraram GTA ou Assassin’s Creed para crianças? Não é proibido, mas os selos garantem que eles saibam o tipo de conteúdo que os pequenos consomem.
Nesta era digital, onde piscamos e os smartphones e consoles permitem o download de diversas experiências (até mesmo gratuitas) que podem comprometer a mensagem que os responsáveis querem passar, isso é muito importante. Porém, tudo tem de ser acompanhado e orientado. Não seria necessário banir jogo X ou Y no processo se adultos estivessem comprometidos a prestar atenção ao que as crianças consomem.
Há, de fato, um limite para temas fortes. Claro que não podemos abrir caminho para incentivo a crimes hediondos e que abordam discussões sensíveis sem qualquer tipo de cuidado. Porém, países proibirem jogos violentos demais ou com sangue demais é um atestado da ineficácia dos próprios responsáveis perante a sociedade. Pode existir um equilíbrio, mas essa é uma discussão que retornará em algumas ocasiões antes de o encontrarmos.
Leia também no Canaltech:
- 10 jogos icônicos lançados em 1992
- 15 jogos antigos que envelheceram muito bem
- Conheça games que fizeram muito sucesso na década de 1990
Leia a matéria no Canaltech.










![Como evitar que o Foco Não Perturbe seja ativado [iPhone, iPad e Mac]](https://macmagazine.com.br/wp-content/uploads/2025/03/28-modo-foco-1260x826.png?#)
![Como ativar o gerenciamento inteligente dos modos Foco [iPhone, iPad e Mac]](https://macmagazine.com.br/wp-content/uploads/2024/12/14-homem-iphone-1260x840.jpg?#)